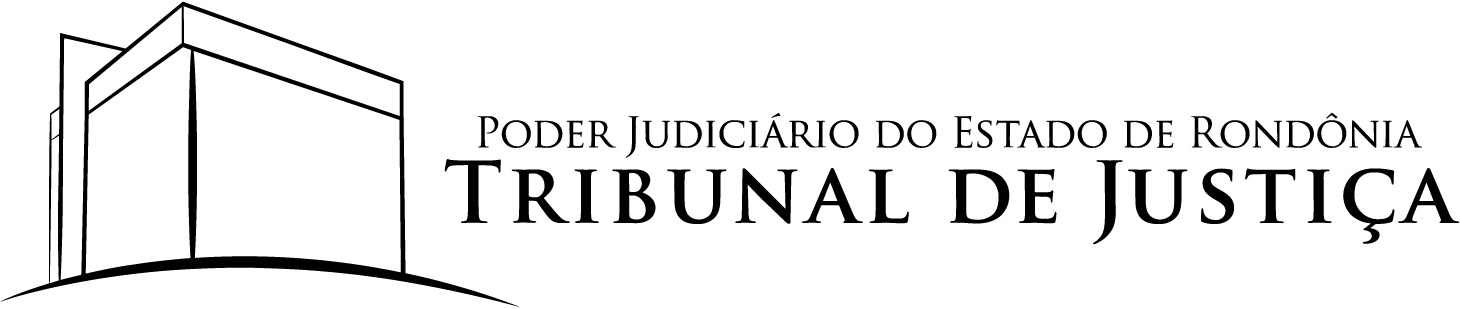Discussão sobre racismo marca terceiro dia do Curso de Direitos Humanos para magistrados
Apesar dos tratados internacionais o Brasil pratica sistematicamente a violência racial, apontam os palestrantes

Apesar de uma população de maioria negra, e do país ser signatário dos tratados internacionais, a violência racial é prática institucionalizada. É a reflexão que os palestrantes do 3º dia do curso de Direitos Humanos para Magistrados, promovido pela escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados de Brasileiros, com apoio da Escola da Magistratura de Rondônia e Associação dos Magistrados de Rondônia.
Ana Luiza Pinheiro Flauzina, doutora em direito pela Universidade Americana de Direito de Washington, afirmou que a herança colonial da escravidão provoca o racismo e a invisibilidade do negro a ponto de desumanizá-lo. “A dor na carne no corpo negro, não é dor”, destacou ao referir-se ao cotidiano de violência racial e tortura que a população negra é submetida pelo próprio Estado. “O laboratório da tortura é a escravidão. O Brasil foi o país que mais escravizou, mais tempo escravizou e nunca reparou”, acrescentou.
Em razão dessa realidade, a professora constata “a morte como consenso no sistema de justiça criminal”, ou seja, a maioria das vítimas de tortura cometida por instituições e agentes do Estado é de negros e geralmente pobres, reflexo do papel que a própria sociedade reserva para a população negra.
O segundo palestrante, Silvio Luiz de Almeida, doutor em filosofia e direito e presidente do Instituto Luiz Gama, confirmou que a violência racial faz parte da formação brasileira. É tão normal e banalizada que provoca constrangimento ao ser mencionada. “O racismo é um problema de economia política. São esses os fatores determinantes para a propagação da invisibilidade de violência”, analisou.
Para o professor, como país signatário dos tratados internacionais que combatem o racismo, o Brasil precisa adotar medidas políticas (afirmativas) para fazer valer as normas e a própria constituição, que é considerada moderna, porém, a todo tempo, sabotada nesse quesito.
Adotar o Estatuto da Igualdade Racial e as convenções internacionais, todas com normas que avançam nesse sentido, são saídas práticas apontadas pelo palestrante aos magistrados como forma de combater o racismo no cotidiano de trabalho.
O mesmo defendeu o coordenador da mesa e também do curso de direitos humanos, juiz Edinaldo César Júnior, recomendando aos colegas que ampliem suas fontes de interpretações. “Nós precisamos contar com outros elementos para julgar. Só a lei não dá conta de situações como essas apresentadas aqui no curso”, apelou.
Para exemplificar o preconceito institucionalizado na sociedade citou os ínfimos números de negros em cargos de cúpula, a começar pela magistratura, pouco mais de 1%. “Proporcionalmente o número de juízes negros e pardos diminuiu nos últimos dez anos”, acrescentou. Também relatou experiências pessoais como negro e juiz, constantemente sendo alvo de julgamentos errôneos calcados em estereótipos sociais.
O debatedor convidado, o professor doutor da Unir, Marco Antônio Domingues Teixeira, fez uma análise histórica da posição do negro na sociedade subjugada por uma burguesia branca, situação que contribuiu para a construção desses estereótipos que perpetuam a violência.
Na parte da tarde os magistrados participaram de uma dinâmica para discutir um caso levado à comissão de direitos humanos, o do recruta do exército Walace de Almeida, morto por policiais numa favela do Rio de Janeiro, em circunstâncias de clara violação dos direitos humanos.
Ao final, outro caso de Rondônia foi apresentado pela própria vítima, que em seu depoimento contou a tortura cometida por policiais em um processo de investigação de tráfico, crime que ficou comprovado não ter qualquer envolvimento. O processo resultou em reparação judicial por parte do Estado, que teve indenizá-lo.
Assessoria de Comunicação Institucional